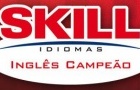Um dos irmãos Caruso – a conferir se Paulo ou Chico, ambos chargistas renomados –, durante a fase em que se falava em abertura política no Brasil, mas não se tinha muita certeza sobre seu prazo e alcance, arriscou publicar uma caricatura bastante ousada do presidente Figueiredo, no jornal Movimento, órgão da imprensa alternativa da época. O diretor do jornal foi logo indiciado pela Justiça Militar. Na audiência preliminar para instrução do processo, presidida por uma junta de juízes do Exército, depois de horas apreensivas, um exemplar do jornal com a charge circulou pela banca judiciária no momento da vista das provas. Todos os sisudos magistrados verde-oliva, cada um a seu modo, esboçaram um sorriso ao verem o desenho. Alívio! Já havia entre eles também o entendimento de que era patético o desempenho do general presidente, além de se mostrarem convencidos de que nada tinha sido mais danoso para a imagem do Exército do que as décadas de ditadura. Algum tempo depois, com a anistia, jornal e diretor foram poupados da responsabilização pelo risível suposto desacato.
Correu-se o risco. Sabia-se disso, mas achava-se necessário testar o discurso enunciado por aquele governo sobre a distensão política, a redemocratização do país. Irresponsabilidade? Talvez, atrevimento... Mas em momentos de urgência histórica, a mídia não pode mesmo agir na área nebulosa da irreverência, da pertinência duvidosa, da ousadia ética? E nesse caso, afinal, o risco parcialmente calculado recairia somente sobre a pele daqueles que optaram pela decisão editorial.
O mesmo juízo caberia para a publicação de caricaturas de Maomé?
Muçulmanos fundamentalistas não sorriram diante das charges de seu profeta que o Jylland Posten, jornal dinamarquês sem muita expressão internacional, publicou em 2005, tão pouco das publicadas persistentemente pelo tablóide francês Charlie Hebdo que acabou sendo objeto de atentado em 2014. O mundo islâmico carece de humor? Muitos outros que viram as charges também não encontraram motivos para o riso. A ironia rasteira de sua concepção e o primarismo dos traços remeteu muito mais à consciência de tratar-se de provocação inconseqüente do que de humor. Não é o caso de recorrer aos tratadistas de moral como Robert Burton que, em 1621, defendia o bom riso, o riso positivo, expressão da alegria lícita, do mau riso, o riso negativo, expressão do “rir de...” ou do “rir contra...”. Imprescindível é considerar a oportunidade da iniciativa. Nenhum chiste, nenhum sarcasmo é bom ou ruim em si. Pode ser perigoso! E o grau desse perigo depende da circunstância em que é contada a piada. Portanto, a questão não é moral, mas ética – entendida aqui como a capacidade de sopesar entre as implicações de nossas decisões num determinado contexto e o impulso desejante de praticá-las.
Ao que sabemos, o editor do Jylland Posten, inconformado com a interdição religiosa da representação do profeta no mundo islâmico, resolveu azorragar a tradição muçulmana. O episódio poderia ser encerrado com as medidas diplomáticas de contenção. Entretanto, outros jornais europeus, um americano, um australiano e um jordaniano optaram por incitar ainda mais os ânimos e republicar as charges, logo em seguida. Represálias comerciais, rompimentos diplomáticos, destruição de patrimônios civis e oficiais e morte de algumas dezenas de manifestantes muçulmanos foram os resultados dessa primeira aventura. O atentado ao semanário CharlieHebdo que resultou na morte de jornalistas é apenas o segundo tempo dessa catástrofe anunciada. A questão é que não foram apenas os sujeitos praticantes da fustigação que sofreram as consequências da persistência dessas atitudes. O terrorismo daí derivado não discerne uns de outros, por suposto.
Tyger, tyger, burning bright, [...] Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?
Willian Blake
De tão previsíveis, esses efeitos eram óbvios. Por acaso desconhecia-se a influência política e militar que os ortodoxos têm desempenhado no mundo muçulmano? Há dúvida sobre se a pauta internacional tem na aproximação tolerante entre as diferentes culturas uma prioridade urgentíssima? Irresponsabilidade, portanto? Sustentável, em alguma dimensão? É correto empenhar-se na defesa da liberdade de expressão como um princípio do republicanismo para justificar o direito de, inclusive, “caricaturar Deus”, como quiseram os editores dos jornais em questão? Intelectuais – alguns de grande porte – embarcaram nessa falácia. E cederam, com isso, a um fundamentalismo equivalente ao dos ortodoxos muçulmanos. O argumento, de origem iluminista, serviu bem aos interesses de segmentos conservadores, chauvinistas, etnocêntricos. O mise en scène de Roberto Calderoli, ainda ministro das reformas da Itália em 2005, foi somente a expressão mais fanfarrona da direita européia para culpar imigrantes pelos efeitos da publicação das charges. O movimento Je suis Charlie!, em 2014, trouxe no mesmo pacote manifestações em defesa da liberdade de expressão, indignação pelas mortes de ‘gente como a gente’ e também antiorientalismo, fundamentalismo antiislâmico, preconceito contra os árabes e imigrantes de todos os tipos. Je suis Charlie apenas sob condições: se também puder manifestar argumentativamente minha crítica a suas práticas, correndo o risco de ser ostracizado pelas patrulhas de plantão.
Je suis moi même et les autres
Mas por que pensar nisso ainda? Ninguém mais fala a respeito. Não ocupa mais espaço nas mídias. A velocidade dos acontecimentos e a voracidade da mídia pela novidade tende a esvaziar a relevância do acontecido e prejudicar, se não impedir, a sua intelecção. Esse é um motivo e tanto para sustentar os episódios na lembrança. A persistência nesses fatos assim desatualizados não deve ser para tentar explicá-los – inexplicáveis que são –, mas para tentar dimensioná-lo em perspectivas mais remotas, quem sabe, com maior distanciamento. Para fazer dele um mote para o pensamento, talvez. E nesse processo, ajudar a produzir um antídoto contra o esforço de caricaturar o outro, o diferente, e o vício de raciocinar somente por meio de estereótipos e modelos generalizantes.
Se não há uma guerra declaradamente assumida entre o Islã e alguns Estados-nação do ocidente, está em curso uma guerrilha de imagens que investe na polarização entre as manifestações culturais correspondentes. Eis uma chave possível. A guerra do golfo e as imagens que se assemelhavam a efeitos especiais de games e filmes, o ataque às torres gêmeas no que ele teve de efeito estético, as coberturas “autorizadas” da invasão do Iraque emitidas pela CNN, os extermínios de reféns que a televisão é levada a colocar no ar de tempos em tempos, os selfies feitos por soldados ingleses e americanos em sessões de tortura e humilhação de prisioneiros nas regiões em que intervêm, a cobertura distribuída pelo exército americano de sua ação para localizar e eliminar Bin Laden, as imagens de destruição de esculturas e templos que pertencem ao patrimônio cultural da humanidade – de fato, as charges de Maomé têm contexto, nesse aspecto.
Charges-bomba. Teria, então, a mídia européia assumido as táticas terroristas tão condenadas nos ativistas islâmicos? Ao que parece, a publicação das charges funcionou como um petardo. Matou civis inocentes e aqueceu a intolerância, se é que não incitou o ódio entre aqueles que nem mesmo tinham até então motivo para isso. A partir delas, o senso comum ocidental se viu nutrido para criticar mais uma manifestação da “intransigência religiosa muçulmana”, do “atraso cultural do oriente”, da “barbárie islâmica”, para afirmar a “inviabilidade do encontro civilizacional”, para reiterar a condenação do “eixo do mal”. Representações todas elas caricatas.
Esse efeito caricatura nos afeta fortemente: da mesma forma como somos levados a grosseiramente pensar os muçulmanos como integrantes de uma “cultura perigosa”, sem fazer distinção das nuanças e complexidades que existem na sua composição, também as minorias radicais muçulmanas se esforçam por representar o mundo ocidental como povoado por “homens ocos”, capazes da eficácia tecnológica, mas vazios de alma, de espiritualidade e por isso mesmo blasfemos e sacrílegos, inimigos incondicionais dos fiéis a Alá. Essa é a base de sustentação do terrorismo de qualquer orientação: a indisposição para diferenciar, para discernir, para perceber subjetividades múltiplas. Isso é o que torna todo um conjunto de pessoas – ligadas por um pertencimento genérico qualquer – alvo potencial de atentados. Recordemos apenas que há cerca de 15 milhões de muçulmanos vivendo na Europa e levas imigratórias cada vez mais intensas em embarcações tão carregadas de pessoas que lembram os navios negreiros da era moderna. Contingente esse que, ao ser considerado apenas pela procedência ou crença, experimenta no cotidiano a hostilidade assim construída.
“É impossível passar os olhos por qualquer jornal, de qualquer dia, mês ou ano,
sem descobrir em todas as linhas os traços mais pavorosos da perversidade humana [...]
Guerras, crimes, roubos, linchamentos, torturas [...] É com esse aperitivo abominável
que o homem civilizado diariamente rega seu repasto matinal.”
Charles Baudelaire
Insistiremos até quando no desvio narcísico que impede a afirmação do diferente como um valor? Esse é um empreendimento difícil para os contemporâneos. A dieta de horrores à qual estamos submetidos na vida cotidiana moderna tende a entorpecer nossa sensibilidade e a abolir da nossa percepção a sutileza. Poucos são os que têm estímulo para se deter na análise mais pormenorizada das culturas. É compreensível: para nos defender do choque constante desenvolvemos uma atitude blasé diante de tantos impactos. Mas não conseguimos assumir o alheamento total, pois vivemos sob o imperativo de nos manter informados sobre tudo, o tempo todo. É daí que recorremos a uma espécie de algoritmo daquilo que nos perturba mas não admite o desconhecimento – apoiamo-nos em alguma chave simplificadora que dispensa de pensar a complexidade do que se encontra em jogo. Essa atitude serve como móvel de afirmação das caricaturas em nosso imaginário.
Paradoxo irrefutável: o fato de sermos levados ao consumo excessivo de informações e imagens – fenômeno nomeado de conectividade compulsória – não favorece a compreensão, a aproximação comunicativa, o diálogo. O efeito é inverso: a banalização das imagens de destruição em massa, de mutilações, de sofrimento de crianças e adultos inocentes induz a certa indiferença em relação à alteridade quando não encaminha ao cultivo do ódio – independentemente da intencionalidade original, esse foi o papel das charges de Maomé.
Mas nem sempre foi assim. As imagens de guerra tiveram, durante séculos, o papel de denúncia do horror, de mobilização das sensibilidades para repudiar a insanidade dos confrontos bélicos. Essa motivação esteve presente em obras como Misérias e infortúnios da guerra (1633), de Jacques Callot, Los desastres de la guerra (1810-1820), de Francisco de Goya y Lucientes, Guernica (1937), de Pablo Picasso, ou em séries fotográficas como as de Roger Fenton e de Felice Beato, sobre a Guerra da Criméia (1855) e guerras colonialistas, ou de Alexander Gardner e Thimothy O’Sullivan, sobre a Guerra Civil Americana, ou na cobertura de Eddie Adams e de Huyunh Cong Ut, da guerra do Vietnã. Algumas obtiveram o efeito desejado, infelizmente não duradouro. As obras dessa galeria não buscavam culpabilizar ou cutucar um ou outro, mas chamar a todos para comungar do desconforto diante do absurdo.
Sabemos que são apenas minorias, de um lado e de outro, que apostam na hostilidade e na intolerância. Entretanto, a difusão midiática desses radicalismos, à saturação, nos faz pensar que as sociedades em questão estão totalmente envolvidas no processo. Seria um gesto de valorização da diferença fazer ressoar as criações culturais provenientes de zonas de conflito no Oriente Médio e que têm feito circular narrativas reveladoras dos dramas sociais, das fissuras ideológicas, da inocência e da ingenuidade, da milenar disposição para a negociação, da vontade de beleza e delicadeza – tudo isso apesar do cenário de ruínas, das carências e da opressão sistemática.
Para ficar apenas com os filmes mais recentes, lembremos de Sob o céu do Líbano, de Randa Chahal Sabag, Kadosh e Free Zone, de Amos Gitai, Paradise Now, de Hany Abu Assad, a filmografia de Abbas Kiarostami e de outros cineastas iranianos, representativos desse movimento e que estão a nos apresentar outros orientes, alternativos àquele dos estereótipos. A literatura teria outros exemplos. Resta-nos escolher, nos meandros de nossa economia da atenção, as prioridades de investimento para o olhar.
A imagem, em nosso tempo, adquiriu um estatuto tão elevado que prescinde de classificação, hierarquização, valor. Tudo é convertido em imagem para o fast food comunicacional. Celebramos de tal forma essa “imagofagia” que geralmente não reparamos como os predicados humanos estão prestes a também serem devorados no ritual. Dá o que pensar quando vemos o terror virar tema de chistes, as imagens de guerras servirem para estereotipar culturas, as fotos do atentado às torres gêmeas serem vendidas como souvenir e os soldados da intervenção enviarem para seus amigos e familiares selfies dos massacres praticados... Chegamos ao extremo de aceitar com naturalidade o horror?
“O horror! O horror! – suas últimas palavras...
para guardar para sempre, insistiu”
Joseph Conrad
Silvio Barini Pinto