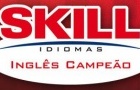O assombroso crescimento da prescrição de drogas medicamentosas para crianças com o objetivo de torná-las “ajustadas” à convivência social é impactante (cerca de 940%, em 4 anos!) . Hiperatividade, déficits de atenção e impulsividade são campeões no quadro das supostas patologias de que as crianças e adolescentes seriam portadoras.
Multiplicam-se laudos, ora levados espontaneamente pelos familiares às escolas, ora resultantes de encaminhamentos feitos sob a orientação de educadores. Essa “atuação cooperativa” entre educadores e profissionais da área psi, neurologistas e outros no detalhamento desses diagnósticos é merecedora de atenção.
Será que os educadores estão se colocando as questões “Quanto estamos a contribuir para a produção social de doenças? Como atuar de forma mais criteriosa em relação a essa onda? Como esclarecer-nos e às famílias quanto às armadilhas produzidas por esse fenômeno?”.
Por certo, ao participar do jogo social, estamos todos envolvidos na produção e reprodução de discursos como esse que emerge no momento atual relacionado aos déficits, distúrbios e síndromes de ordem perceptiva. Informações disponíveis numa rede comunicativa que envolve as falas clínicas, as reportagens dos cadernos de saúde dos jornais e revistas, sites da internet e a literatura abundante sobre o assunto (com grande sucesso de vendas em feiras e congressos de educação) fornecem a instrumentalização ligeira e leiga para que qualquer indivíduo se torne um diagnosticador – no limite da charlatanice.
No universo educacional, não raro, esses “diagnósticos” são proferidos nas salas de professores e conselhos de classe onde se discorre com fluência e suposta propriedade sobre os desvios e patologias de que os alunos seriam portadores. A partir da apropriação desse discurso, as manifestações comportamentais indesejadas e/ou incompreendidas são correntemente classificadas como hiperatividade, déficit de atenção, transtorno bipolar ou qualquer outra categoria emprestada do campo clínico. As famílias, alertadas pela escola, acabam por procurar especialistas da saúde portando já um quadro de observações pré-estabelecido e indutor. Há médicos e psicólogos criteriosos, mas é comum a criança ou adolescente retornar ao cotidiano escolar medicado. “Quando ela está medicada, é ótima aluna”, é um bordão proferido com freqüência atualmente entre professores.
A indústria farmacêutica agradece. E, geralmente, os professores atingem o intento subjacente aos “diagnósticos”.
A medicação das crianças e adolescentes, diga-se, é altamente eficaz na regulação de comportamentos - a ritalina chegou a ser nomeada droga da disciplina, ou da obediência. Castigos corporais e códigos morais já serviram mais intensamente ao mesmo propósito em outras épocas. Embora em xeque contínuo, as avaliações seletivas continuam sendo um instrumento regulador.
Docilizar os desviantes pode ser um recurso para adiar a investigação das condicionantes sócio-históricas que tornam imperativas as revisões das metas e práticas escolares. Fecham-se os olhos, dessa forma, para uma realidade inelutável que é a de que está em curso a produção de novas subjetividades. Entre outras causas, isso tem a ver com a quantidade e qualidade de tecnologias hiperestimuladoras a que as gerações mais novas estão expostas desde a tenra infância e pelo cultivo do consumo voraz de conectividade –condicionante do qual não escapamos também nós, os adultos. Isso envolve, além das mudanças comportamentais mais visíveis (“tá ligado?”), também novas condições cognitivas (como o acionamento mais freqüente da intuição que dos modelos mentais mais clássicos para a solução de problemas).
É uma pena esse adiamento. Se nos dermos conta disso mais ágil e profundamente, seremos capazes de inventar adequações que tornarão a escola menos familiar ao século XII – quando combinava a estrutura de transmissão de conhecimento das corporações de ofício com a atitude passiva dos fiéis nos cultos religiosos – e tentar afiná-la ao XXI que está a exigir sujeitos dinâmicos, versáteis, criativos, pró-ativos, capazes de gerir relações e aprendizagens.
Essa febre de diagnósticos tem uma articulação bastante estreita com um fenômeno institucional comum às escolas, especialmente as privadas, nas últimas décadas. Trata-se do fato de os familiares dos alunos sentirem-se, por uma série de contingências, autorizadas a pontificar sobre como a escola deve agir na condução da vida acadêmica dos filhos. Resguarde-se que toda parceria entre família escola deve ser estimulada, porém entre parceiros, nenhum dos envolvidos determina categoricamente a ação do outro, desrespeitando assim o olhar diferente, a experiência, o profissionalismo dos educadores.
Essa atitude de algumas famílias teria como fundo o desejo de assegurar complacência para seus filhos. Envolve a busca de acolhimentos afetivos especiais, mesmo quando atuam em desconformidade com os princípios da instituição escolar – projetando na escola a extensão da vida familiar idealizada – e/ou a intenção de garantir prerrogativas de tolerância indefinidamente elástica para as performances acadêmicas dos filhos – cuja função seria poupá-los das frustrações mais prosaicas, concernentes à vida social.
A articulação entre esses dois aspectos estaria no fato de os diagnósticos funcionarem como legitimadores do desejo de distinção latente nas ações das famílias. A eficácia que essa chancela produz repousa na delicada relação mantida entre a escola e o discurso de competência dos clínicos - psicólogos ou médicos. Afinal, constata-se largamente que a definição do campo de especificidade da atuação escolar afrouxou-se, nas últimas décadas, na mesma proporção em que as escolas tentaram atender as dispersas demandas que lhe foram sendo direcionadas. Nessa realidade tão complacente e porosa, não é incomum encontrar, de forma ainda mais destacada do que em outros momentos, a afirmação de um protodiscurso médico e a disposição para certos psicologismos. Portanto, os “diagnósticos” funcionariam como uma chave-mestra para o franqueamento do ambiente escolar a uma série de “discursos” concorrentes e para que sejam depositados ali os desejos de privatização de uma situação que deveria ser, por definição, regida por princípios de coletividade.
A indiferenciação entre a vida social mais ampla e a vida familiar continua a ser um mal entendido causador de distorções terríveis. É necessária aos educadores e pais a consciência de que algo que, indiscutivelmente, a escola ainda pode e deve produzir de positivo na formação de nossos jovens é introduzi-los na dinâmica pública. Do contrário, estimulamos a infantilização quando deveríamos promover o amadurecimento, a dependência no lugar da autonomia, o autoritarismo em vez da tolerância e do respeito.
Pais e mães precisam conter o impulso protetor e controlador e entender que para a formação de sujeitos éticos é necessário também respeitar a autonomia de que a escola é detentora, fundamental para realizar o trabalho de socialização que lhe é devido.
Educadores necessitam ter mais claro que as questões emergentes nesse universo coletivo relativas às alterações perceptivas e comportamentais são de nossa competência e não da família e nem de profissionais “de apoio”. Para isso, é necessário que tenhamos de nos preparar melhor para a gestão de grupos e para acolher as diversidades neles existentes
Silvio Barini Pinto
1 Os dados são do Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, levantados com base no ""IMS-PMB" – publicação suíça que contabiliza dados do mercado farmacêutico mundial, publicados pelo jornal Folha de São Paulo em 15/01/2006. Os números são confirmados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que controla as vendas de remédios no Brasil.